REPORTAGENS ESPECIAIS
A A | Transtornos mentais: a culpa é mesmo do cérebro?Em livro recém-lançado pela Editora Fósforo, psiquiatra questiona discurso hegemônico em sua classe, que aponta raiz exclusivamente biológica para o sofrimento psíquico. E indica: é preciso que sejam muito mais que “prescritores de remédios”. Leia um trecho Por Juliana Belo Diniz A seguir, Outra Saúde tem a satisfação de publicar um trecho de O que os psiquiatras não te contam, livro de Juliana Belo Diniz, psiquiatra e pesquisadora do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC-USP). Recém-lançada pela Editora Fósforo, a obra busca desmistificar a ideia de que depressão, ansiedade, pânico e outros sofrimentos psíquicos sejam apenas “doenças do cérebro” e, por isso, passíveis de serem extirpadas exclusivamente com remédios. Para isso, Diniz resgata a história da psiquiatria desde o século XVIII e analisa de forma crítica o discurso hegemônico de ultraprodutividade, hipermedicalização e resiliência. A alternativa: construir mudanças políticas, sociais e econômicas com efeitos nas questões mentais. Boa leitura! (G. A.) Neste livro, pretendo desmistificar o senso comum de que psiquiatras servem exclusivamente para receitar medicamentos e de que transtornos psiquiátricos são, por óbvio, doenças do cérebro. Do mesmo modo que a psiquiatria é muito mais do que uma especialidade médica que sabe indicar antidepressivos, calmantes, estimulantes e antipsicóticos, os transtornos psiquiátricos vão muito além do resultado de um mau funcionamento do nosso cérebro. Transtornos psiquiátricos não são mitos, mas tampouco são doenças como outras quaisquer. Refutar uma psiquiatria que olha para nós, humanos, como se fôssemos cérebros desprovidos de história tem se tornado cada vez mais necessário em um mundo que culpa a dopamina pelos efeitos das redes sociais, que acredita que conexões cerebrais desorganizadas nos fazem agir como estranhos e que diz ser possível treinar nosso cérebro para o sucesso. O discurso centrado no cérebro, inclusive, está por todo lado, desde vídeos recordistas de visualizações sobre “dez coisas que alteram a química cerebral” até promessas de modificar receptores de dopamina com mudanças de hábito lotando as prateleiras de livrarias nas seções de autoajuda. Pôr a culpa no cérebro não é um detalhe desimportante. Esse é um discurso que afeta a percepção geral acerca das doenças mentais e alimenta crenças relativas ao alívio de qualquer conjunto de sintomas, ou mesmo nos aproxima da fantasia de uma produtividade constante e extraordinária. E na escolha dessa retórica, a psiquiatria não é inocente. Muitos psiquiatras incentivam a disseminação desse discurso cerebral alegando boas intenções. Não duvido das boas intenções, mas questiono se o tiro não terá saído pela culatra. A afirmação de que “transtornos psiquiátricos são doenças do cérebro” tem sido usada como forma de reivindicar legitimidade à psiquiatria enquanto especialidade médica. Como se, caso ultrapassássemos fronteiras estritamente biológicas, fôssemos diminuir o problema de quem sofre e tirar os psiquiatras do escopo da medicina, lançando-os em rota de colisão com o pensamento científico. Ou seja, ao recusar o discurso do cérebro, é como se estivéssemos defendendo uma realidade condenada a discussões filosóficas intermináveis e improdutivas, e não científicas. Além disso, muitos psiquiatras afirmam que associar transtornos psiquiátricos a supostas disfunções cerebrais é uma forma de reduzir o estigma em torno da doença mental. Para eles, aproximar os sintomas emocionais das manifestações de um infarto ou do diabetes é uma forma de driblar o imaginário popular em torno do estigma da “loucura”. Um termo que, embora não seja mais empregado na psiquiatria, nunca deixou de circular entre o público não especializado. Ao longo dos capítulos, me oponho a essas afirmações. Pretendo mostrar que ir além do cérebro não só é seguro como é essencial para que não sejamos reduzidos somente aos nossos atributos biológicos. Em outras palavras, sustento que não devemos nos iludir com a crença de que poderíamos ser mais bem definidos pela nossa sequência de dna, pela composição da nossa microbiota intestinal, pela organização das nossas conexões cerebrais, pelo nosso perfil de marcadores inflamatórios ou qualquer outro elemento do imaginário científico. E ainda tento nos poupar de sofrer em decorrência da fantasia de que somos falhos por sermos incapazes de treinar o cérebro para o sucesso. Concordo que precisamos combater o estigma em torno das doenças mentais, mas não acredito que criar uma mitologia cerebral é a melhor forma de fazer isso. Não deixa de ser verdade que os estudos do cérebro, conhecidos também como neurociências, se sofisticaram muito nos últimos anos e que hoje o conhecemos melhor do que nunca. Apesar de toda a inovação e produtividade das últimas décadas, esses estudos ainda contribuem muito pouco para a nossa compreensão do sofrimento humano. Exceto por alguns tratamentos aplicados ocasionalmente, as neurociências não trouxeram nenhuma revolução terapêutica. A maior parte dos tratamentos que usamos hoje são versões do que já existia na década de 1960. Portanto, focalizar o cérebro como causa de nosso sofrimento corresponde muito mais a um desejo de encontrar todas as causas do sofrimento nele do que a uma conclusão baseada em resultados científicos que confirmem que é lá que encontraremos as soluções para os nossos problemas. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Relatório de ONG israelense afirma que Israel atira contra crianças em Gaza Na Faixa de Gaza, soldados de Israel matam e agridem crianças palestinas, que vivem sob o iminente risco de morte e sem perspectivas de futuro. É o que afirma um relatório da ONG israelense B’Tselem, que denuncia genocídio em Gaza. O documento, intitulado “Our Genocide” (nosso genocídio, em português), divulgado nesta última segunda-feira, 28 de julho, aponta as consequências severas causadas pelo conflito na saúde física e psicológica de crianças e suas mães, que não conseguem amamentar os seus filhos, em decorrência dos traumas. O relatório da ONG é baseado em dados de entidades, reportagens e relatos. Desde que a guerra começou, em outubro de 2023, mais de 55 mil pessoas morreram em Gaza, sendo mais da metade mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde local. As mortes aconteceram em bombardeios ou fuziladas pelas Forças Armadas do exército israelense, a mando do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que passou a sofrer críticas internacionais e foi condenado à prisão por “crime de guerra” pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). POR QUE ISSO IMPORTA? O relatório do grupo de defesa de direitos humanos B’Tselem é uma das primeiras iniciativas de ONGs israelenses a denunciar o genocídio em Gaza; Os dados e depoimentos da publicação revelam um cenário desolador de mortes na guerra, sendo mais da metade de crianças. Segundo o relatório da B’Tselem, os ataques israelenses não ocorrem somente por meio aéreo ou ataques a bombas. Há lugares conhecidos como “zonas de matança”, onde soldados do Exército de Israel abrem fogo deliberadamente contra cidadãos palestinos, incluindo crianças. “Essas práticas foram reforçadas por declarações de comandantes sobre assassinatos indiscriminados e por testemunhos de médicos voluntários em Gaza, incluindo evidências visuais de assassinatos deliberados por atiradores de elite contra crianças”, descreve o relatório. As “zonas de matança” foram descritas por soldados israelenses como um lugar onde “era dada a permissão para atirar em qualquer um que fosse visto dentro delas” e os limites dessa área não eram bem claros até mesmo aos militares. Um dos relatos trazidos no documento é o de Raja al-Harbiti, de 35 anos. Ela, o marido e os três filhos foram atropelados por um tanque de guerra israelense, mesmo segurando bandeiras brancas que pediam paz. O pai da família e uma das crianças foram dilacerados pelo veículo blindado, sobrevivendo apenas a mãe e os dois filhos que ficaram gravemente feridos. “Ibrahim [um dos filhos sobreviventes] continua revivendo o momento em que o tanque atingiu seu pai e seus irmãos. Ele continua descrevendo como a cabeça de Muhammad [irmão que morreu] foi decepada, e como Ahmad [o pai] sangrou muito. Ele se tornou agressivo e bate nas outras crianças ao seu redor. Ele grita muito, tem pesadelos à noite e urina na cama”, contou a mãe sobrevivente. “Toda vez que Sanaa [a segunda filha sobrevivente] ouve um barulho alto, ela fica muito assustada, coloca as mãos nos ouvidos e diz: ‘Tanque’. Ela também sofre de incontinência urinária. Sinto como se estivéssemos vivendo em um filme de terror”, declarou al-Harbiti. Crianças convivem com o medo da morte Segundo o relatório, 96% da população infantil em Gaza acredita que vai morrer logo e outros 50% desejam a morte, em decorrência dos traumas gerados pelo conflito. Os dados são da ONG Save The Children, vinculada à ONU. Outro estudo citado foi divulgado pela organização Médicos Sem Fronteiras, em dezembro de 2024, e aponta que crianças palestinas apresentaram “ideação suicida, ansiedade, depressão e necessidade de apoio psicossocial”. De acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, divulgados aos Médicos Pelos Direitos Humanos de Israel (PHRI), cerca de 4,7 mil pessoas tiveram membros do corpo amputados, incluindo quase mil crianças. Pela escassez de analgésicos, parte dos procedimentos foram feitos sem anestesia, inclusive em crianças. Meninos andam por prédio destruído pelos ataques de Israel na Faixa de Gaza, em 2009 Hala Rajabi, de 50 anos, contou à B’Tselem que soldados israelenses invadiram a sua casa, em julho de 2024, deliberadamente e a agrediram junto com os filhos, incluindo as crianças. “Muhammad [um dos filhos] ainda sofre com dores nos testículos e com ansiedade. Ele tem tido dificuldades para dormir desde o ataque. Diz que tem pesadelos com os soldados correndo atrás dele e o espancando. […] Eu realmente não me recuperei desde então. É muito difícil ficar ali parada, impotente, e ouvir soldados espancarem seus filhos dentro da sua própria casa”, contou a matriarca. Como consequência do conflito, a população palestina perdeu 30 anos de expectativa de vida ao nascer, diz o relatório. Homens antes viviam, em média, 75 anos e agora não ultrapassam os 40. Para as mulheres, a diminuição foi de 77 para 47 anos. Fome e desnutrição A falta de alimentos adequados e o acesso à água potável também faz com que crianças nasçam com baixo peso e mães não consigam produzir leite para alimentar os recém-nascidos, o que resulta na morte de bebês, de acordo com o documento. O relatório descreve que a fome também é uma forma de morte causada pelos ataques israelenses. “Todas são resultado direto da destruição das condições de vida na Faixa de Gaza, das restrições impostas por Israel à entrada de ajuda humanitária e do ataque israelense ao sistema de saúde, que se tornou incapaz de lidar com o fluxo contínuo de vítimas”, apontou o documento. “Meu filho mais novo, ‘Az a-Din, chorava muito e ficava repetindo: ‘Estou com fome’. Partia meu coração ouvir isso, e chorei por causa da situação dele, mas essa era a situação de todos. Expliquei a ele que todos estavam com fome e que não havia nada que eu pudesse fazer”, disse a matriarca de cinco filhos, Hala Sha’sha’ah, de 40 anos, ouvida pela ONG. Sha’sha’ah é moradora da Cidade de Gaza, a maior do território palestino. Ela contou à B’Tselem que há dificuldade em encontrar carnes, vegetais e até mesmo farinha. “Chegamos a um ponto em que as pessoas estão comendo qualquer tipo de carne que conseguem encontrar, não importa a origem”, afirmou. No último domingo, 27 de julho, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que “não há fome em Gaza” e que Israel havia permitido a entrada de ajuda humanitária durante a guerra, em um discurso proferido em um evento cristão, em Jerusalém. Entretanto, a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, em inglês) divulgou um estudo, na última segunda-feira, 28 de julho, que classifica a Faixa de Gaza como o “pior cenário de fome neste momento” em todo o mundo. Edição: Mariama Correia | A A |
| AGÊNCIA PÚBLICA |
Portal Membro desde 25/08/2017 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | De onde vêm os bebês reborn?Polêmica em torno das “mães” de bonecos hiper-realistas diz muito sobre a maternidade real e normativa da cultura influencer. Nela, amor e afeto entram em cena em busca de curtida e publis – bebês vivos devem parecer bonecos; bonecos, um ser vivo. Há algo de maquínico em ambos casos Nas últimas semanas o tema dos bebês reborn viralizou na internet, ou pelo menos na minha timeline. Fui atravessada por muitas perguntas sobre a prática reborn mas principalmente sobre a reação diante de tal prática. A surpresa, o assombro, o estranhamento dos usuários das redes sociais diante de algo denominado como “bizarrice”, “anormal”, “doentio”. O que seria o normal e saudável, então? Ensaios, artigos, postagens, vídeos e reportagens de TV abordaram o tema com tom semelhante; a prática traria benefícios para carências emocionais, traumas e frustrações em relação a maternidade mas a perda do limite entre realidade e brincadeira significaria um risco para a saúde mental. Cada caso é um caso. As reflexões que circulam nas redes focam na singularidade como parâmetro de avaliação da prática com os bebês reborn. Ponderação importante, uma vez que qualificar a prática como genericamente negativa significaria perder a chance de observar sua complexidade. No entanto, há algo do “genérico”, no sentido de como tal prática se dissemina, se replica e se prolifera que aponta para as subjetividades desse nosso tempo de redes sociais. Seriam elas criadoras da demanda de bebês reborn? Não, mas elas adensam uma cultura da performance da vida íntima, sempre no limiar do documentário e do encenado, da espontaneidade roteirizada, das relações subordinadas a captura da câmera do celular, da cena vivida como sinônimo de compartilhamento nas redes, da diluição entre experiencia e simulação, simulação e experiência. A experiencia não é simplesmente capturada pela câmera mas simulada para ser capturada. Na lógica das redes, é somente a partir desse modo de captura da cena simulada que as experiências parecem ter legitimidade. Cena capturada para ser experienciada. É ilusão achar que algum dia houve experiência sem simulação, sem mímese, sem cena a priori, na qual nos encaixamos, confrontamos, desconstruímos e reinventamos, mas agora, nas redes, há um “plus”; a fantasmagoria de um público em potencial. Quem nunca viu (ou mesmo já fez) aquela selfie onde a pessoa documenta-se a si mesma no abraço amoroso com um bebê? Isso quer dizer que o abraço foi menos experienciado? Não, mas quer dizer que ele tem uma intenção que interpela a legitimidade da experiência; ser visto, ser curtido. Amor e afeto como cena, como roteiro ansioso por visualizações e curtidas, aquela gramática de reconhecimento das redes. Há, portanto, um tipo de cuidado, um tipo de maternidade, um tipo de exposição e reconhecimento de vínculo afetivo sendo validado porque viraliza (ou não) na internet. Esse parâmetro de pertencimento nas redes, cria uma universalidade, um sujeito genérico digital, que é porque existe no digital. É a partir desse lugar “genérico” de participação e performance social-digital – onde as singularidades em torno da maternidade e da organização do cuidado são homogeneizadas (mais do que nunca) – que observo a prática com os bebês reborn. E daí vêm uma avalanche de perguntas. O que tá por traz da reação necessariamente negativa diante do bebê reborn? Que significante ele oferece à uma sociedade organizada (também) a partir das redes sociais? Seria um espelho? Com o que se surpreendem aqueles que rotulam a prática reborn como “bizarra” e “anormal”? Por que nos perguntamos se é “saudável” ou não? À qual demanda de mundo a prática reborn responde? À que tipo de maternidade ela responde? Que mãe e que bebê é possível performar através da prática reborn? Que mãe e que bebê tal prática mimetiza? O que seria a prática reborn senão uma paródia hiper-realista de uma maternidade afunilada pela lógica das redes? Por que se estranha a mãe reborn e nem tanto aquelas postando cada suspiro de seus filhos “reais”? A qual realidade estão sujeitas as crianças continuamente compartilhadas na timeline de seguidores? Talvez a inércia responsiva às câmeras performada pelas crianças, acostumadas com um celular sempre testemunhando cada passo, não seja tão diferente dos olhos (sem olhar vivo) dos bebês reborn. Por uma oposição eles se encontram. De um lado bebês vivos que precisam parecer bonecos, do outro bonecos; que precisam parecer vivos. Há algo de maquínico em ambos. Talvez o estranhamento estridente da comunidade digital diante da prática reborn normalize a ficção que inspira pessoas a quererem bebês bonecos. Talvez a realidade encenada, a maternidade espetacularizada nas redes, a incansável tarefa de promover experiências de cuidado transformada em manual de vendas, seja capaz de produzir um tipo de desejo: ser mãe de um boneco basta! É assim que o estranhamento diante dos bebês reborn escancara um sintoma da sociedade que normalizou um formato de maternidade que virou produto, faz tempo. Mesmo que a relação com bonecas seja antiga, a prática com os bebê reborn inaugura um tipo de brincadeira que ultrapassa o lúdico, a ficção e transborda um hiper realismo que responde a demanda de um tipo de performance de maternidade celebrada nas redes sociais. Mas quem disse que a maternidade não é ficção? Quem disse que a realidade que a prática com os bebês reborn mimetiza não é uma invenção? De que realidade estamos falando? Bom, se há uma realidade inquestionável na maternidade é aquela do tropeço, do inusitado, do erro, da falha, da falta, DA FALTA, do desconhecido, do que não se pode prever, precipitar, antecipar, encenar. Uma mãe (seja lá quem for desempenhar essa função) está sempre diante da tarefa de desidealizar a maternidade, justamente porque nela há pelo menos dois sujeitos em formação. De um lado o sujeito que se pretende na função materna com suas expectativas, memórias e história, e do outro o bebê que chora, sente fome, frio, calor e cresce atravessado por satisfações e faltas nunca antes experimentadas. Há conflito. Apesar de a maternidade aparecer nas redes como status, posição fixa, cena, identidade, na realidade ela se impõe como construção singular da função materna. O que as redes sociais nos oferecem como conteúdo digital a ser produzido e consumido é a maternidade que vira cena pra ser curtida e compartilhada. Na contemporaneidade digital é difícil dissociar a maternidade de sua presença nas redes e toda uma gramática de pertencimento e reconhecimento que a lógica dos seguidores empreende. Mães bem sucedidas nas redes são aquelas que viralizam com dicas e tutoriais de cuidado, educação, saúde e etc. Acontece que a maternidade não é instagramável. Mesmo que a frase de Winnicott possa até virar estampa de camiseta passando pela sua timeline, a mãe “suficientemente boa” não é o que o algoritmo quer. Ele quer performance, regularidade de posts, a ininterrupta produção de conteúdo e de preferência com o bebê na cena, porque é ele que captura nosso olhar. Mas a complexidade da função materna não cabe em uma síntese de post. Ufa! A maternidade é tortuosa, imprevisível. A maternidade é frustrada e produz frustração em uma jornada onde aprender a lidar com a falta é uma via de mão dupla. Da mãe pro bebê, do bebê pra mãe e idealmente de todas as pessoas que atravessem essa relação. A maternidade é uma experiência cheia de vazio. O que a prática com os bebês reborn nos mostra não é tanto sobre o desejo de pessoas quererem a todo custo experienciar a maternidade, mas sobre um tipo de sociedade que afunila as possibilidades de estar no mundo dentro do registro de um tipo maternidade. É como se a experiencia do cuidado e da relação com a infância estivesse encerrada em uma cena fixa, congelada, como aquele sorriso das muitas selfies que capturam olhares inertes nas redes. Há algo na prática reborn que parece reafirmar, como paródia, um tipo de maternidade pasteurizada, produzida para virar post, linear o bastante para compor o infinito acúmulo de imagens homogêneas das redes, aquela repetição do mesmo, sem diferença. De certa forma, o bebê reborn encena a paródia de um tipo de maternidade que se pretende imune a desidealização. Diante da mãe, o bebê reborn é um boneco e por mais realista que possa parecer, ali não há pulsão, ali não há falta, apenas uma superfície que recebe (sem resistência) as projeções de alguém que encena um tipo de maternidade. E encena pra quem? A presença de bebês, crianças e (principalmente) mães nas redes passa a ocupar papel importante no dinamismo de um mercado de anunciantes e de marketing digital. Cativam e capturam os olhares ávidos por uma nova imagem nas redes e isso faz toda a diferença para a economia da atenção. Ter um bebê segue sendo um troféu, como sempre foi em uma sociedade que circunscreve o lugar da mulher pelo da maternidade, por um tipo de maternidade. Mas nas redes esse troféu ganha um novo dinamismo. Bebês são agora embalagens de uma matéria-prima que garante visibilidade e, se for bem feito, até pode proporcionar pra mamãe alguma projeção profissional em um mundo de extrema precarização. Se ele não falar, não chorar, não cagar, não sentir, não demandar, melhor ainda. A “maternidade” virou um ramo da cultura influencer que dinamiza as redes com dicas de cuidado e todo um menu de produtos e serviços associados a ela. Nas redes, o cuidado é majoritariamente um mercado e muito pouco um processo. O que se performa como influenciadora, denominada muitas vezes de “instamom” é um estilo de vida, um tipo de vínculo familiar, um tipo de bebê, um tipo de mamãe, um tipo de relação performada com realismo e espontaneidade instagramável. É inevitável associar o crescimento da prática com os bebês reborn e a cultura influencer. Cultura que encara cada aspecto da vida íntima como palco de uma cena que atrai a atenção de anunciantes, product placements, publis e toda uma dinâmica do marketing digital. A maternidade está em alta nesse mercado e sua narrativa é pujante nas redes. Qual é a cena que se repete, que se replica, reproduzida como infinita variação do mesmo? Fotos e mais fotos, textos confessionais, tutoriais, receitas, brincadeiras, salas de parto transformadas em estúdios de filmagem, chás de bebê organizados como shows de pop-stars que ainda não nasceram, mamães e bebês felizes em cenas muito bem decoradas e toda uma infância que precisa caber na lógica das selfies, roteirizada para uma performance na praça pública digital. Agora com os bebês reborn qualquer um pode participar do mundo digital como mãe, produzir conteúdo, viralizar, fazer um parto ao vivo em um programa de TV e até ser patrocinada por uma marca sem nem mesmo precisar passar pela tortuosa experiência da maternidade, digamos, com fluídos, choro, faltas e demandas passíveis de frustração. Nas redes sociais parece não haver falta e essa ausência de vazio, que está na própria mecânica algorítmica de produção acelerada e ininterrupta de dados, transborda para nossas subjetividades, produz nossas subjetividades. Nesse sentido, arrisco dizer que o tipo de maternidade que as redes sociais celebram é aquela onde a falta não tem vez. É isso o que a prática com os bebês reborn parece nos contar. As pessoas que não puderem ter filhos, que tiverem um trauma de perda ou que não quiserem parir e cuidar de um sujeito em eterna negociação com suas pulsões, poderá, mesmo assim, participar do grupo identitário “mães”. Tem pra todo mundo, tudo é possível. Essa é a promessa. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
| A A |
| TV CULTURA |
Portal Membro desde 19/01/2025 Segmento: Governo Premiações: |

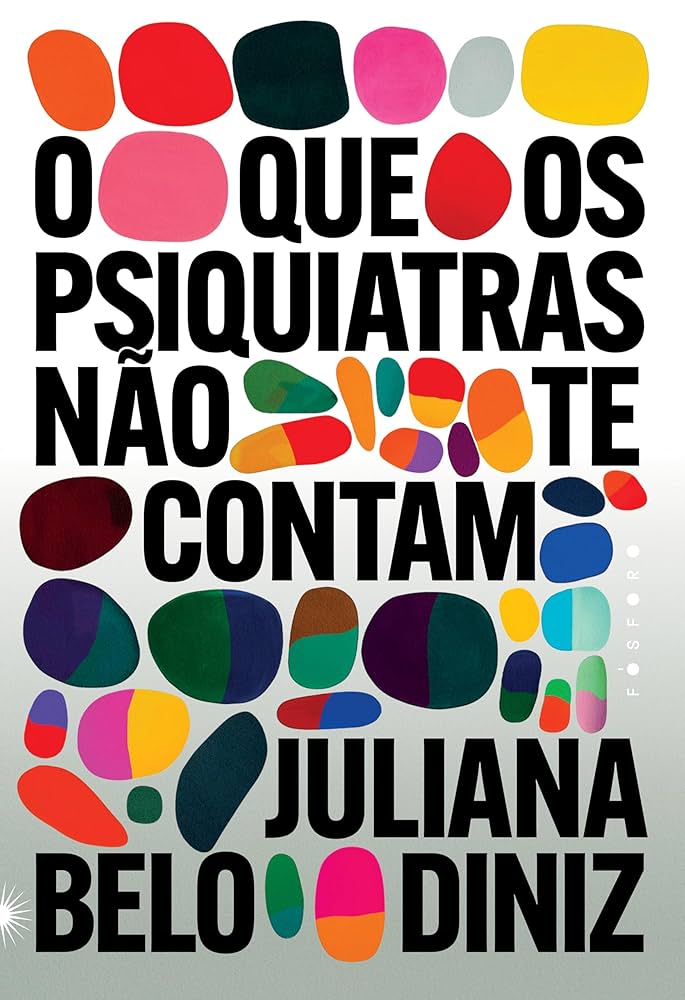


Comentários
Postar um comentário